
Quando atingi uma certa idade e fiquei refém das responsabilidades, minha existência ficou marcada por uma bateria social com pouca vitalidade. Convém ao jovem adulto recusar o convite das escapadas noturnas, ou quaisquer outras aventuras que ocorrem na devassidão da noite. Logo, não se estranhava a rotina de esquivar-se dos amigos. Recusar uma oferta para sair tinha se tornado corriqueiro. Em não raras ocasiões ainda insistia: “não, por favor, vão sem mim”.
Ao se tratar dos amigos de infância é ainda mais complicado. O peso da nostalgia torna praticamente impossível se livrar dos incômodos. Era certo que em muitos momentos eu agia com falta de educação. Bater com a porta em suas caras era demasiadamente grosseiro, ainda mais quando seus olhos — tão familiares — permaneciam no fim do corredor, esperando que você vá se juntar a eles. Um chamado tão assustador quanto recorrente.
Em nossa juventude, nos momentos vagos, costumávamos explorar as entranhas da nossa cidade — um pequeno município, com poucas ruas e oportunidades de se entreter. Em uma época que a internet não chegava a todos, era papel da criatividade gerar distrações e, criar necessidades para uma subsistência repleta de energia e ócio.
Fora dos limites das ruas e calçadas, a natureza tão banal, levemente selvagem e desconhecida, era uma convocação ao desbravamento. Um convite cordial que Vagner e Messim não recusavam em uma tarde perdida de sábado. Quando Messim pegava sua velha câmera digital — cortesia de sua tia Rosa — sabíamos ser a hora perfeita para traçar nosso próximo destino.
Normalmente as trilhas não eram longas, nem mesmo encontrávamos algo interessante com frequência. Mas, em raras ocasiões, velhas casas — a maioria, ruínas — e barragens escondidas no meio da mata, se tornavam verdadeiros tesouros. Com nenhuma visita humana além da nossa, esses pontos “turísticos” eram transformados em um local de refúgio para escutar uma boa música, fazer um lanche e jogar conversa fora.
Os fins de semana permitiram um mapeamento quase completo dos arredores da cidade. Visitar os mesmos locais repetidamente tornavam o trajeto cada vez mais enfadonho. Aos poucos, caminhos conhecidos pareciam não ser suficientes, e a necessidade de explorar mais fundo a paisagem se tornava inevitável.
Ouvi, certa vez, sobre a existência de uma estação de trem abandonada, perdida em algum lugar. Era de fato muito antiga, da época em que cargas com algodão precisavam atravessar os estados com eficiência. Um passado tão distante, que a memória nem sequer cogitava a ideia de que uma ferrovia já foi vista por aquelas bandas. Um lugar tão improvável parecia ser um destino promissor para nossa próxima aventura.
Contei aos meus amigos sobre nosso possível novo destino, o que imediatamente gerou uma onda de ansiedade generalizada. Vagner limpou os óculos e Messim colocou a câmera na mochila. Para deixar a aventura ainda mais interessante, sugeri que fôssemos à tardezinha. Inventei uma história sobre o lugar ser assombrado, alegando que ouve uma morte brutal no passado. Seus olhos curiosos me fitavam, e eu tentava convencer-lhes sobre a veracidade da história. Houve então uma relutância por parte de Messim, porém, Vagner parecia ainda mais interessado. No fim, conseguimos lanternas e decidimos sair antes de o pôr do sol, para chegar ao local ainda com a luz do dia e retornar somente na escuridão total da noite.
Seguimos a orientação de um conhecedor do local. Preparamos mochilas com alimento e água. Os tênis, embora bastante usados, ainda estavam bons para o desafio. Entramos na mata por uma pequena trilha e seguimos até que o caminho se perdeu em meio aos xique-xiques e gogoias. Habitualmente, se esquivar dos arbustos cortantes era nosso forte, parando apenas, de vez em quando, para tirar os espinhos da coroa-de-frade que se entranhavam nos calçados.
Por precaução, amarrávamos fitas vermelhas em uma sequência de árvores para facilitar o retorno. Caminhamos até encontrar, um velho chiqueiro de porcos — nosso primeiro ponto de referência. Curiosamente, por trás dele era possível avistar nossa cidade, mas apesar da visão familiar, logo percebemos o quão distantes estávamos. Isso nos fez duvidar ainda mais da história da estação, nos perguntávamos se algo assim, realmente existia por ali.
Ainda seguindo as orientações do velho que morava perto do cemitério, andamos mais um pouco até finalmente, para nossa surpresa, encontrarmos um pequeno morro com uma linha de trem antiga em seu topo. Afinal, tinha valido a pena. A ideia da estação deixou de ser uma lenda e se tornou um fato. Subimos o morro e percebemos que estávamos literalmente no fim da linha. Ali, uma extremidade da ferrovia se interrompia, enquanto o outro lado parecia conduzir até a estação. O retorno estava claro: fim da linha, chiqueiro de porcos e fitas vermelhas. Depois disso, era só seguir para casa.
— Vamos logo, tenho que aproveitar a luz para tirar as fotos! — Messim disse, já impaciente.
Aceleramos o passo. A única permissão era se hidratar; comer, somente quando chegássemos à estação. Percorremos os trilhos por cerca de quinze ou vinte minutos, uma caminhada cansativa, mas antes de escurecer, avistamos ao longe o que parecia ser uma casa com alpendre.
Era uma construção simples: um grande batente e um telhado ligeiramente baixo. Talvez tivesse criado expectativas demais sobre o local, mas depois refleti, para nós três, aquilo era o melhor que poderíamos ter encontrado. Felizmente, não havia casas de maribondo. O mato ao redor estava alto, mas ainda assim era fácil subir até a simples “plataforma” sem dificuldades. Não havia sinais de cobras nem qualquer outra ameaça.
Sentamos no chão e começamos a comer. Messim, mal terminando o lanche, já estava pronto para tirar fotos de tudo ao redor, segurando a câmera em uma mão e uma sorda preta na outra. Vagner também estava inquieto, olhando de um lado para o outro, observando cada detalhe, como era seu costume, e aproveitando a história que aquele lugar parecia contar com suas rachaduras.
Ficamos até o sol desaparecer e a escuridão tomar conta, trazendo consigo um silêncio ameaçador. Estranhamente, nenhum som de bicho podia ser ouvido, exceto por um momento, quando um grito fantasmagórico ecoou longe dali — “É a mãe da lua”, disse Messim. Aproveitei a oportunidade para tentar assustá-los. Contei uma história sobre um rapaz, que morreu ali por ciúmes de sua ex-namorada. Acostumados com meus contos, o medo não teve o efeito esperado, mas todos concordaram que aquele era o momento perfeito para histórias de Trancoso.
Decidimos permanecer um pouco mais. Eu e Vagner tentamos abrir a porta da pequena casa, mas sem sucesso. Com auxílio da lanterna, olhamos pela fresta de uma janela e, para nossa decepção — ou não —, a sala estava completamente vazia, exceto por tijolos caídos da parede, algumas telhas quebradas e cocô de passarinho espalhado pelo chão. Enquanto isso, Messim examinava as fotos que havia tirado, satisfeito com seu trabalho.
Quando finalmente ligamos as lanternas e decidimos que era hora de ir embora, tive uma ideia para tentar causar medo novamente.
— Sabem, existe uma maneira de chamar o rapaz morto aqui — propus, e recebi olhares curiosos como resposta. Expliquei que precisávamos olhar na direção onde a linha do trem terminava, fechar os olhos e dizer uma frase específica (que eu tinha lido em um livro): “Na vida com sorte, tive má sorte; na vida com má sorte, não tive mais”.
Um por um, nos aproximamos da beirada do batente, repetimos a frase e dali, pulávamos para a linha de trem. Logo, tomamos nosso caminho pela ferrovia.
Rimos de satisfação por nossa jornada. A volta para casa nunca tem pressa, principalmente em trilhas noturnas, deve-se aproveitar cada segundo. Nosso passo era leve, mas a caminhada acabou se estendendo mais do que imaginávamos. Primeiro parecia normal, depois ficou preocupante, e logo se tornou desesperador. Quando, após meia hora, ainda não havíamos encontrado o fim da linha, começamos a perceber que algo estava errado.
— Não pegamos o caminho contrário da linha? — Vagner perguntou, preocupado. Eu lhe respondi que não, pois dali ainda podíamos ver a luz da cidade.
O frio e o medo começou a se apoderar de nós quando insistimos em apressar o passo e, ao mesmo tempo, a cidade parecia se distanciar. A lanterna de Vagner tremia, e Messim, em silêncio, não ousava abrir a boca.
Quando já estávamos cansados, Messim finalmente rompeu o silêncio.
— Vocês ouviram algo?
Paramos, apontando as lanternas para todos os lados, tentamos enxergar algo e ouvir qualquer som — que, de forma sobrenatural, era quase inexistente.
Antes que eu pudesse dizer “não é nada”, um som de metal ressoou, vindo de algum ponto por onde já havíamos passado.
Subitamente, uma luz tênue se acendeu atrás de onde estávamos. Mantinha-se distante, mas era possível distinguir uma pequena luz branco-amarelada, quase apagada, na mesma direção onde a linha de trem provavelmente se originava. Ficamos paralisados de medo. Não nos movemos por um bom tempo, apenas observando aquela luz ofuscada pela escuridão.
Voltamos a nos mexer apenas quando o som de trem em movimento começou a crescer, vindo em nossa direção.
Não foi preciso ninguém dizer que devíamos correr; isso era uma reação instintiva. Corremos enquanto o som continuava a se aproximar. De vez em quando, eu olhava por cima do ombro para ver onde a luz vinha, mas ela não se movia; o que se aproximava era apenas o som.
Não podíamos nos dar o luxo de tomar um desvio. A altura do barranco onde a linha fora construída poderia nos levar a uma queda fatal. Se isso ocorresse, ficaríamos vulneráveis e machucados no meio dos espinhos de cactos sob nossos pés. A única opção viável era correr o máximo possível a nossa frente.
O som da locomotiva estava praticamente em nossos ouvidos, e o cheiro de carvão queimado tomou conta das narinas, mas nada nos alcançava. Por pouco, Vagner não torceu o pé. O desespero foi tanto que largamos as mochilas para tentar correr mais rápido. O trem estava praticamente em cima de nós, e quando minhas forças já estavam quase no fim, avistei mais à frente um trecho familiar à esquerda.
— A trilha! — gritei, quase sem fôlego, mas o suficiente para os outros ouvirem. Era o fim da linha, o caminho de casa.
Desvencilhando da linha de trem, tomamos aquele trajeto, que nos levaria em direção ao chiqueiro de porcos. Para nosso horror, mesmo fora dos trilhos, o som da locomotiva continuava a se aproximar. Não havia tempo para pensar sobre o que era real ou não. O terror já nos dominava por completo.
Quando Vagner gritou que alguém estava chamando seu nome, tomamos uma decisão desesperada. Segui pela direção do chiqueiro, e de lá seguiria direto para a cidade, afinal, dali se via melhor onde ela estava.
Eu estava certo, a cidade parecia ressurgir a partir dali, oferecendo a esperança de que conseguiríamos retornar.
Ao redor do chiqueiro, não havia espaço para contornar. O mato estava alto, e os espinhos das juremas nos impediam de passar. O único caminho era através do cercado. Tomei a frente e, como um louco, sem cautela, consegui pular por cima de uma das cercas. Mas logo percebi haver vários obstáculos, várias cercas, todas fechadas, sem sequer uma entrada que facilitasse nossa passagem. A luz da lanterna era insuficiente, e dificultava ainda mais a travessia.
Nessa altura, ouvi Messim gritar que sua lanterna havia caído e se apagado. Ele ficou na completa escuridão. Da voz de Vagner, não ouvi com clareza. Estávamos separados. O pânico tomou conta de mim, e eu fiquei confuso diante do tamanho daquele labirinto, não sabia qual atitude tomar, só sabia que não podia olhar para trás. Devia seguir em frente, pelo menos para me salvar.
Quando finalmente pulei a última cerca de uma sequência quase interminável, me vi no meio do mato, com a vegetação batendo na minha cintura. O som do metal ao longe se intensificava, e pude ouvir os gritos dos meus amigos posterior a mim. A voz de Vagner finalmente surgiu, dizendo:
— Fiquei para trás, não me deixem!
Messim, por outro lado, pedia por socorro. Eu chorava, soluçava, quase sem forças. A essa altura, os gritos se misturavam, se tornando um som único. Gutural, grotesco, como se fosse um grito animalesco, algo terrível, como porcos sendo abatidos.
Após correr por uma certa distância, finalmente olhei para trás, mas só encontrei as trevas. Os gritos agora eram pequenas lamúrias, quase abafadas. A lanterna tremula, que quase sem forças segurava, denunciou algo se arrastando em alta velocidade na minha direção. Quando voltei a correr, vi, de súbito, um vulto branco. Bati a cabeça em algo e, antes de poder reagir, o mundo se apagou.
Antes do amanhecer, acordei aos pés de uma velha capela com paredes brancas. Permaneci ali deitado de lado, observando a grama dourada, que se erguia alta ao meu redor. No meio dela, iluminada pela luz tênue do amanhecer, uma figura pequena me encarava. Parecia uma criança, mas seu olhar era maligno, cheio de ódio. Fiquei imóvel, congelado, até finalmente me encontrarem.
Fui hospitalizado e, após um tempo, voltei para casa. Enquanto todos ao meu redor tentavam entender o que acontecera, eu fui incapaz de dizer uma palavra por semanas.
Descobri, por boatos, que meus amigos foram encontrados em pedaços. Restavam apenas dois torsos, alguns membros espalhados aqui e ali. Os rostos deles agora se esvaneceram, restando apenas na lembrança, pois nada sobreviveu, tudo foi consumido. Acredita-se que foram devorados por porcos. Mas não havia porcos por lá, nem selvagens.
Agora, mesmo após tantos anos, mesmo não morando mais na minha cidade natal, continuo trancado em meu apartamento sempre que o sol sai. Eles continuam a me assombrar. Eles permanecem na penumbra dos corredores, sempre com a mesma aparência, na mesma idade de quando partimos. Seus olhos, tristes e vazios, me fitam, me chamando para sair com eles. Estar com eles. Eu digo que não, mas insistem em me chamar.
“Um dia virá, um dia ele virá.”

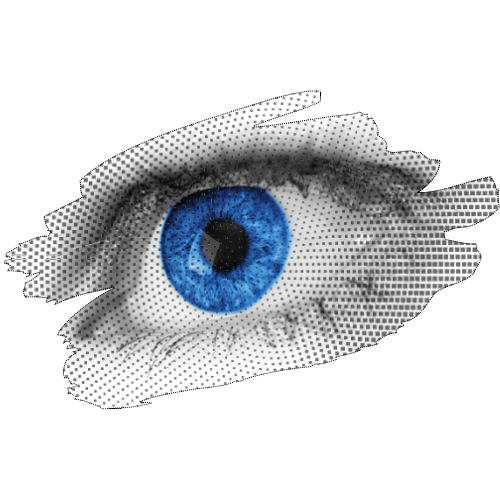
Deixe um comentário