
Capítulo 3
O Findar das Semanas
Já fazia algumas semanas.
O material permanecia à minha disposição, mas eu sabia que não me serviria tão cedo. A caneta repousava reclusa. Os papéis espalhados sobre a mesa traziam hematomas escuros de grafite borrado; outros já se viam rasgados pelos acessos nervosos da borracha.
O clima, o quarto, a mente — nada havia mudado.
Logo cedo, quando o frio noturno ainda se dissipava sob os primeiros raios da alvorada, eu saía para minha caminhada. O dourado matutino refletido nos telhados dava às ruas da cidade uma beleza antiquada. A luz desenhava o contorno das construções escuras, revelando um contraste belo e vigoroso, que parecia insuflar nova vida às casas centenárias.
Erroneamente, em meu julgamento inicial, pensei que cidades interioranas não poderiam oferecer interesse algum. Enganei-me. Ao observar o cotidiano daquelas pessoas comuns, passei a enxergar beleza na simplicidade com que viviam. O “bom dia” trocado entre vizinhos, os olhares indiscretos, os cochichos de canto, as crianças correndo pelas ruas — tudo compunha uma narrativa silenciosa, encenada da forma mais pura e real. E somente agora passei a enxergar isso.
Na decisão de aventurar-me por uma cidade desconhecida, nutria a esperança de que, entre rostos e ruas igualmente desconhecidos, algo novo brotasse do fundo do meu inconsciente — esse lugar onde germinam os pensamentos mais avassaladoramente sinceros. O âmago da poesia. Mas, como Dimas costumava dizer-me: não se trata do lugar, mas de mim.
Não muito longe de onde me hospedava, havia um boteco na esquina que se tornara meu destino matinal para o desjejum. Sem placa, carregava somente a designação de seu dono: “Boteco do Seu Biléu”. Em cidades pequenas, onde todos se conhecem, os comércios não precisam de nomes extravagantes; basta-lhes dizer o que são, somado ao nome de quem os mantém: “Bar da Pequena”, “Açougue do Amsterdã”, “Bodega da Inácia”.
Eu costumava sentar-me a uma pequena mesa de madeira, de tampo redondo, no estilo bistrô. Aquela mesa em específico ficava disposta na calçada, do lado de fora do estabelecimento. O sol leve da manhã, somado à curta caminhada de antes, ajudava a despertar a mente para o novo dia.
— O de sempre? — perguntava o dono do local, já ciente do que eu costumava pedir.
Sentava-me estrategicamente voltado para a rua. Enquanto saboreava a revigorante xícara de café, minha alma se deixava tomar por devaneios — momentos de intimidade com os próprios pensamentos, semelhantes àqueles que surgem em viagens de ônibus ou sob o jato da ducha, quando raras epifanias descem de súbito e dão um leve gozo de catarse.
Daquela cadeira, eu via o crescente vai e vem das pessoas. Uma investigação silenciosa da vida alheia. Buscava em seus trejeitos pequenas denúncias de suas particularidades.
A moça jovem na janela, suspirando sempre sobre o parapeito, que a cada rapaz que passa lança olhares sonhadores de talvez — talvez um futuro, talvez um casamento. A beata, que do caritó nunca saiu, e que, de hábito, mantém as mãos unidas como se ainda tivesse um terço entre os dedos, julgando os jovens que encontram amores, e lamentando que com ela fora diferente.
O boêmio, talvez poeta no viver, apaixonado — por que não? — pela moça da janela, ou por tantas outras, mas que não encontra coragem para se confessar.
O moleque, despreocupado, que, assim como eu, observa a todos, mas que, ao contrário, apenas vive. Sonhar, ter rancor, amar — tudo isso ainda não lhe pesa. Ele se dedica ao mais importante: o brincar. E, ao menos por hoje, é o único entre eles que alcança realização.
Saciado, limpava os dedos no guardanapo e folheava algum pequeno livro. Naquele dia, uma coletânea de poesias do Carlos Drummond de Andrade. Sua aptidão em verter pulsos da alma em palavras culminava numa poética simples de compreender, mas imensa em sentir. Eu ficava extasiado diante do que lia. Não evitando a comparação — devo confessar — a inveja mesclava-se à admiração.
Acredito que um homem de fora, com um livro em mãos, transmite certo ar esnobe, afastando qualquer possível companhia. Isso talvez explicasse minha dificuldade em aproximar-me de quem ali residia. Mas, pouco a pouco, o rosto habitual foi-se tornando menos hostil, e com o tempo, abri-me melhor para com eles. E deles, recebi retribuição.
Quando a leitura cansava, propunha-me a conversas com quem estivesse por perto. Ora com o dono da venda — sujeito de certa simpatia e pulso firme, digno dos comerciantes —, ora com os filósofos embriagados, recém-expulsos, que se acomodavam no meio-fio, chamando entre risos, o nome de ninfas surgidas de algum sonho ébrio.
Os mais velhos contavam-me suas histórias: cenários tão fantásticos quanto mentirosos. Ainda assim, eu lhes invejava os episódios. A maioria dos escritores escreve o que lhes falta em vida; aventura, quase sempre. Mas quando se trata de excessos, é a melancolia que acaba no papel.
A novidade de uma amizade faz o dia passar rápido. Muitas vezes, as conversas faziam a manhã emendar-se com o almoço e, de lá, quando todos já estavam fartos das lorotas e arrogâncias, dispersávamo-nos, prometendo reencontro no dia seguinte. Voltava sempre carregado com suprimentos — e, claro, da aguardente que nunca faltava.
Na pensão, a senhoria me recebia com seu singelo e amável sorriso, contrastando com uma melancolia no olhar que jamais a abandonava. No balcão, deixei-lhe alguns pães confeitados da padaria e disse serem especialmente para ela. O gesto simples retirou-lhe, por um momento, o semblante triste: o sorriso arqueou-se um pouco mais, e respondi-lhe com outro de mesma proporção. Segui para o quarto pensando: seja lá o que lhe aconteceu, ela merece descanso.
Subi as escadas. Apesar da umidade do corrimão, seu toque já me era familiar, e menos repulsivo. O corredor, antes tão silencioso, agora ecoava o canto dos passarinhos. Ou será que sempre foi assim?
Da janela, observava a rua movimentada, ainda preso às análises alheias. Um poeta fala sobre a vida — portanto, para ele, é essencial que viva. Em epifanias, passei a enxergar a paisagem de modo distinto: como uma pintura mais bela. A noção miserável a que me entregara antes foi se atenuando, até desaparecer.
Esse novo vislumbre da vida, devo-o a Dimas. Queria contar-lhe que sua mentoria me trazia novos ares, e que provavelmente teria a obra pronta no prazo certo. Iniciei alguns rascunhos. Iria mostrá-los a ele, ouvir sua opinião.
As falhas da caneta borravam-me as digitais; pequenas ilustrações e esboços misturavam-se aos versos que ousava rabiscar. Não eram suficientes, mas naquele instante eram tudo de que precisava.
Ao cair da tarde, o crepúsculo trazia consigo o aguardo daquele som familiar. A canção era o convite esperado. Quando o silêncio requeria seu domínio, o corredor era tomado pelo violino de Jean Dimas: uma batalha formidável. Mas o silêncio é frágil diante da ondulação da alma do artista.
Apressei-me em juntar os rascunhos e os mantimentos. Enquanto recolhia, percebi que as notas soavam em outra vibração. O que antes era esplendoroso tornara-se agora inteiramente sinistro. Havia beleza, sem dúvida, mas um tipo de prazer nefasto e imoral — uma perversão em ondas sonoras.
Larguei tudo e saí para o corredor. À medida que avançava, recobrei a sensação de que o espaço físico se desdobrava à minha frente. O conforto de outrora foi substituído por uma terrível angústia. Uma culpa esmagadora me apertava o peito, roubando o fôlego, como se a mesma dificuldade respiratória de Dimas tivesse encarnado em mim.
Chegando ao quarto 15, bati à porta. Avisei que iria entrar, mas nenhuma resposta veio. A simples aproximação da mão à maçaneta parecia afastar-me qualquer humanidade. Inevitavelmente, adentrei o recinto. Uma vertigem súbita, como de labirintite, me fez perder por um instante a consciência. O som cessara: o vácuo retinha o que antes fora sonido. No quarto do velho Dimas, tudo parecia um pesadelo; o que já era escuro, achava-se agora inominável.
Devagar, meus olhos se adaptaram ao negror. Ao tomar consciência do que me cercava, vi-me envolvido em uma cena absurda — e mais absurdo ainda era a naturalidade com que eu aceitava o que me era revelado.
Por todo o quarto havia bonecos, semelhantes a manequins de vitrine. Sentados em cadeiras, estavam dispostos como uma plateia à espera de um grande concerto. Um daqueles rostos vazios voltou-se para mim, aproximou-se e fez uma reverência, convidando-me ao assento. A ausência de vida naquele ser era aterradora. Sem recusar, segui guiado por aquela imitação humana. Só então percebi que a cadeira que me aguardava era a mesma em que eu costumava me sentar em minhas visitas de prosa.
O quarto parecia agora ter dimensões aumentadas. Toda noção espacial que eu possuía dissolvia-se, tomando liberdades criativas que já não obedeciam às leis da física.
Diante da imensa cortina, restávamos apenas eu e os bonecos inexpressivos. Meus olhos — que acreditava serem os únicos espiritualmente ali — estavam fixos, apreensivos, ansiando pela revelação de quem se ocultava por trás do grosso tecido. A resposta, no entanto, já era clara.
O silêncio nunca me pareceu tão incômodo; o frio, tão hostil. Lentamente, as cortinas rubras se abriram e, delas, surgiu a figura de Jean Dimas com seu violino. Ao notar minha presença, lançou-me um sorriso de satisfação — como se esperasse o meu testemunho em sua grande apresentação.
Um palco se revelava. O cenário era de um imenso teatro, sem limites visíveis: a escuridão engolia qualquer horizonte. O que se via era apenas a plateia horrenda, as cortinas de sangue, o palco e aquele que se preparava para uma performance arrebatadora.
Em súbito gesto, seu arco deslizou sobre as cordas — e dali jorraram notas malditas. Pesadelos inteiros dançavam em valsa macabra ao som blasfemo do violino. Loucura tétrica: o caos se fazia evidente. O desvario da condição humana jamais se manifestara de forma tão viva. Atroz, incapacitante — nada podia ser dito ou pensado. Apenas sentir, gozar, ser dilacerado por aquela música.
Os bonecos olhavam fixamente. Eu também. Mal ousava piscar. O suor escorria de seu rosto. Seus movimentos eram de tamanha perfeição que parecia ter-se fundido ao instrumento. Homem e violino tornaram-se um só — uma arma forjada para emitir uma canção sobrenatural, que transpassava qualquer noção etérea de prazer e dor.
A precisão afastava qualquer falha possível. Dimas já não era humano: atingira um grau de nirvana jamais concebido pela mente comum. Feriu os que tinham alma e os que não a possuíam. E, quando enfim cessou, voltou-se de súbito para a janela.
“Eis-me aqui!” bradou.
Então o vento entrou. Uma mão feita de poeira surgiu, agarrou o velho e arrastou-o para a escuridão. Ainda pude ouvir seus risos histéricos se afastando, até que restasse apenas o sopro da brisa noturna. Assim, Dimas tornou-se sobrenatural, tal qual a música que tocava.
Toda a plateia ergueu-se. E aplaudiram forte.
Ψ
A alvorada chegou. De volta ao meu quarto, encontrei-me atônito. Onde deveria estar a porta do quarto 15, havia apenas uma parede encardida.
De súbito, todo o cenário lúgubre e asqueroso me assaltava outra vez. A senhoria nada sabia — a origem daquele quadro na entrada era-lhe um mistério. Afinal, não fora a primeira dona do lugar.
A existência do velho Dimas permanece, até hoje, uma interrogação. Ainda assim, sou-lhe grato: concedeu-me a maior obra que pude escrever, e disso não devo reclamar. Mas a inquietação não cessa. Pergunto-me se não seria melhor abandonar a literatura e buscar outra ocupação.
Porque, apesar do aparente sonho, guardo até hoje, sob minha cama, o seu violino — único fragmento que restou daquelas noites. E, que ainda, sim, ouço de suas cordas, um choro de lamento.

Fim do Capítulo 3/3
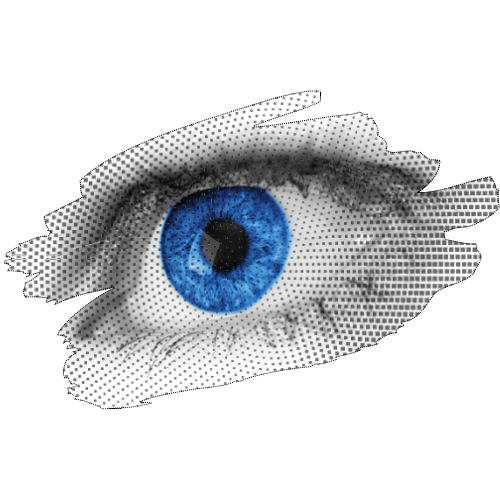
Deixe um comentário